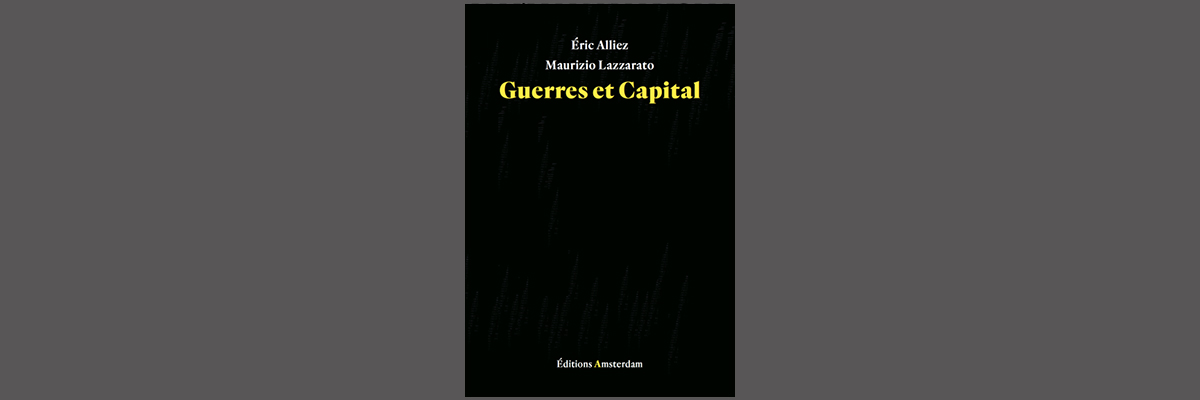25 Outubro 2022
“Simone Weil não viveu para ver a queda do nazismo, pois a tuberculose a levaria embora em agosto de 1943. Sua obra alcançou a fama após sua morte, graças ao trabalho de divulgação realizado por Albert Camus. Para o autor de A Peste, aquela jovem de óculos, que em plena guerra tinha a coragem de se perguntar se ela mesma merecia morrer, havia sido “o único grande espírito de nosso tempo”, escreve Eduardo Pérez, em artigo publicado por El Salto, 23-10-2022. A tradução é do Cepat.
Eis o artigo.
18 de agosto de 1936. Frente Aragón. Missão de reconhecimento da Coluna Durruti. Os milicianos, homens de guerra por vocação ou, em sua maioria, fruto das circunstâncias, estão nervosos e pensam na iminente batalha. Conferem suas armas, avistam o horizonte em busca de algum detalhe que aponte o inimigo.
Entre todos esses homens armados, destaca-se uma jovem francesa de 27 anos. Magra, com cabelos médios e óculos que cercam seu olhar tímido. Reflete duramente sobre o que irá, pouco depois, desenvolver em seu diário: “Lanço-me, olho as folhas, o céu azul, um dia lindo. Se me capturarem, vão me matar... Mas será merecido. Os nossos derramaram muito sangue. Sou cúmplice moral”.
A filósofa Simone Weil está há pouco mais de uma semana na Espanha. Nascida em uma família intelectual judia, estudou filosofia e literatura clássica. Em 1928, entrou na Escola Normal de Paris com a avaliação mais alta, seguida por Simone de Beauvoir. Posteriormente, esta escreveria:
“Eu a invejava porque tinha um coração capaz de bater pelo mundo todo. Um dia, pude conhecê-la. Não sei como começamos a conversa. Explicou-me em tom incisivo que só uma coisa importava, hoje, em toda a Terra: uma revolução que desse de comer para o mundo todo. De forma menos categórica, contrapus que o problema não é fazer os homens felizes, mas encontrar um sentido para sua existência. Ela me olhou fixamente. ‘Nota-se que você nunca passou fome’. Este foi o fim de nossas relações”.
Efetivamente, Weil decidiu colocar seus dons intelectuais a serviço da libertação dos despossuídos. Após uma estadia na Alemanha pouco depois, previu o desastre que se avizinhava. Vinculada ao sindicalismo, em 1934, interrompeu sua carreira docente para trabalhar em uma fábrica da Renault, uma experiência que deixaria sua marca nela, conforme relata:
“Estando na fábrica, confundida aos olhos de todos e aos meus próprios, entre a massa humana, a desventura dos outros penetrou na minha carne e na minha alma. Nada me separava deles, pois realmente havia esquecido meu passado e não esperava nenhum futuro. Era difícil para mim imaginar a possibilidade de sobreviver a semelhante cansaço. O que vivi lá me marcou de um modo tão perene que mesmo hoje, quando um ser humano, seja quem for, em qualquer circunstância, dirige-se a mim sem brutalidade, não posso deixar de ter a sensação de que deve ser um erro e que, infelizmente, sem dúvida, o erro se dissipará. Lá, recebi para sempre a marca da escravidão, como a marca a fogo vivo que os romanos registravam na testa de seus escravos mais desprezados. Desde então, sempre me vi como uma escrava”.
A revolução e a vida
Assim como para tantos outros militantes de esquerda, a eclosão da Guerra Civil Espanhola supôs para Weil o dever de combater o fascismo em ascensão. Em seu caso, nisto estava a oportunidade para algo ainda mais profundo. A jovem filósofa usou seu diário para refletir suas primeiras impressões:
“É difícil acreditar que Barcelona seja a capital de uma região em plena guerra civil. Quando se visita Barcelona em tempos de paz e se chega à estação ferroviária, não parece haver mudança alguma. As formalidades ao atravessar a fronteira ocorrem em Port-Bou. Saio da estação de Barcelona como qualquer turista, ando pelas ruas cheias de alegria. Os cafés estão abertos, há menos gente do que o habitual. As lojas também estão abertas. A moeda circula normalmente. Se não fosse o fato de haver tão poucos policiais e tantos garotos armados com fuzis, não perceberíamos nada. É necessário um tempo para compreender que estamos em uma Revolução, e que estamos vivendo um daqueles períodos históricos que aprendemos nos livros e que alimentaram tantos sonhos, desde pequenos: 1792, 1871, 1917. Há uma revolução em Barcelona. Espero que sirva para que haja mais felicidade. De fato, nada mudou, exceto só uma coisa: o povo tem o poder. Os homens de macacão azul são os que mandam. É um desses períodos extraordinários que nunca perduram, em que aqueles que sempre obedeciam assumem as responsabilidades”.
No entanto, Weil não se esquivava dos conflitos que a realidade provocava em seu interior. Para ela, “não podemos ser revolucionários, se não amamos a vida”. E este conceito não combinava em absoluto com o que já foi mencionado no primeiro parágrafo. Como é possível amar a vida em uma situação que exalta a morte?
Weil não se referia ao lado franquista, mas às experiências de violência gratuita por parte de seus próprios companheiros, que ela apreciava intensamente e cuja causa nunca deixou de defender. “Nem entre os espanhóis, nem mesmo entre os franceses que chegaram (...), vi a expressão, ainda que na intimidade, da repulsa, do desagrado, sequer da desaprovação pelo sangue derramado inutilmente”, escreveria em uma carta, meses depois de sua experiência.
Sua reflexão era a seguinte: “Tive a sensação de que quando as autoridades temporais e espirituais colocam uma categoria de seres humanos fora daquelas cujas vidas tem um valor, não há nada mais natural para o homem do que matar. Quando se sabe que é possível matar sem correr o risco de uma punição ou reprovação, mata-se; ou ao menos cerca-se os que matam com sorrisos encorajadores. Se por acaso primeiro se experimenta um certo desagrado, é silenciado e logo sufocado por medo de parecer que falta virilidade. Há aí uma incitação, uma embriaguez impossível de resistir sem uma força de espírito que me parece excepcional, pois não a encontrei em parte alguma”.
Ferida por acidente, Simone Weil retornaria à França menos de dois meses após cruzar os Pirineus. Durante a Segunda Guerra Mundial, trabalharia como redatora, na Inglaterra, para a Resistência Francesa. Não viveu para ver a queda do nazismo, pois a tuberculose a levaria embora em agosto de 1943. Sua obra alcançou a fama após sua morte, graças ao trabalho de divulgação realizado por Albert Camus. Para o autor de A Peste, aquela jovem de óculos, que em plena guerra tinha a coragem de se perguntar se ela mesma merecia morrer, havia sido “o único grande espírito de nosso tempo”.
Leia mais
- Simone Weil: Uma carta de coração
- O amor ao próximo como categoria ética em Simone Weil. Artigo de Ana Lúcia Guterres Dias. Cadernos IHU ideias, Nº 327
- Filosofia, mística e espiritualidade. Simone Weil, cem anos. Revista IHU On-Line, Nº 313
- Simone Weil, no limiar da Igreja
- A guerra: uma leitura crítica a partir de Simone Weil
- Simone Weil. Sempre contra o messianismo
- Simone Weil e uma crítica à servidão
- Simone Weil: retirar-se de si para dar lugar ao outro. Artigo de Donatella Di Cesare
- Simone Weil: na dança do amor, a distância e a separação
- Albert Camus e Simone Weil
- O desejo de Simone Weil: “Cristo universal”
- O percurso do Partido dos Trabalhadores à luz da antropologia de Simone Weil. Entrevista especial com Alexandre Martins
- Vozes que desafiam. A vida de Simone Weil marcada pelas opções radicais
- Amor. Simone Weil na oração inter-religiosa desta semana
- Livro da filósofa Simone Weil que pede fim dos partidos chega ao Brasil
- A atenção, condição necessária para a oração, segundo Simone Weil
- 70 anos da morte de Simone Weil: a obrigação de limitar o mal
- O itinerário espiritual de Simone Weil
- Simone Weil a "vermelha": a defesa dos pobres, a vocação mística